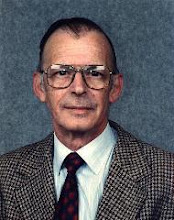Naquele tempo, por volta
da metade dos anos 40, bem antes e depois, todo
o bocado onde fosse possível plantar uma couve ou
semear uma batata era aproveitado na minha terra.
A zona
sempre foi bastante limitada de recursos agrícolas.
Cá em baixo, no vale, nas margens
da Ribeira de Vila Chã, nem tanto, as culturas eram de regadio sofrível, mas lá
em cima, no planalto de Couchel, cá para mim uma ancestral fortaleza
natural de atalaia às avoengas da Estrada da Beira, salvo dois ou três
casos de poços profundos com minas, boa parte das leiras não tinham
um pingo de água no Verão.
Uma dessas leiras era do meu
avô: Um rectângulo de torrões ressequidos em ligeira inclinação
do Cabeço para a quelha da Avessada, que dava grão de bico
e tremoços para azotar a terra em poisio, e cereal de segunda qualidade,
centeio, cevada e aveia na época mais fértil.
Melhor ou pior, era a altura da ceifa.
As ceifeiras eram a minha tia Dora, minha madrinha, uma rapariga de 23
anos, um torrão de açúcar na época, e a Arminda, uma mocetona peituda com
a mesma idade, que transpirava hormonas, e umas pernas que pareciam duas
colunas jónicas.
Eu
andava por ali. Se as duas moças me davam corda, o que era normal, não era de
esperar que eu fosse rezar na Capela da Eira dos Santinhos. Tinha os meus oito
ou nove anos, não era cego, o meu avô dava uma ajudinha a completar o
ramalhete.
A
Dora olhou para o lado, fez sinal à Arminda, a Arminda olhou para baixo,
apanhou-me esparramado de costas no chão com os olhos cravados lá no alto mesmo
no meio das pernas dela. Não fui tão rápido como pensava, fui atropelado por um
combóio de mercadorias, só parei de rebolar nas Paúlas, cerca de um quilómetro
depois, a dois passos da Ponte Velha.
Sacudi
as parganas, fiquei pronto para outra.
Mas
um enigma perdurou no tempo: Até hoje nunca cheguei a descobrir se o que eu vi
eram as cuecas pretas da Arminda.
Aniceto Carvalho